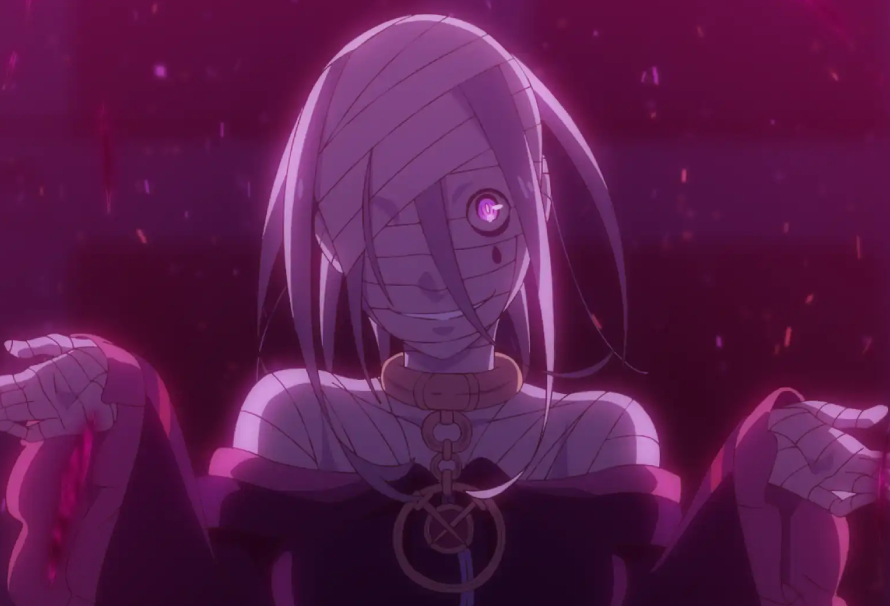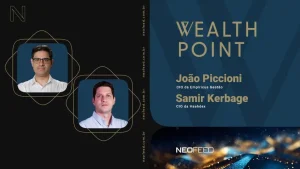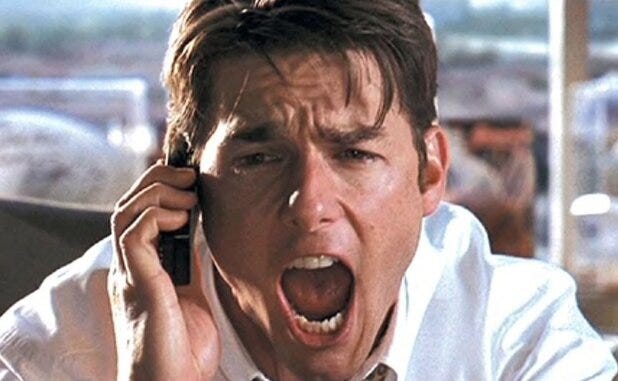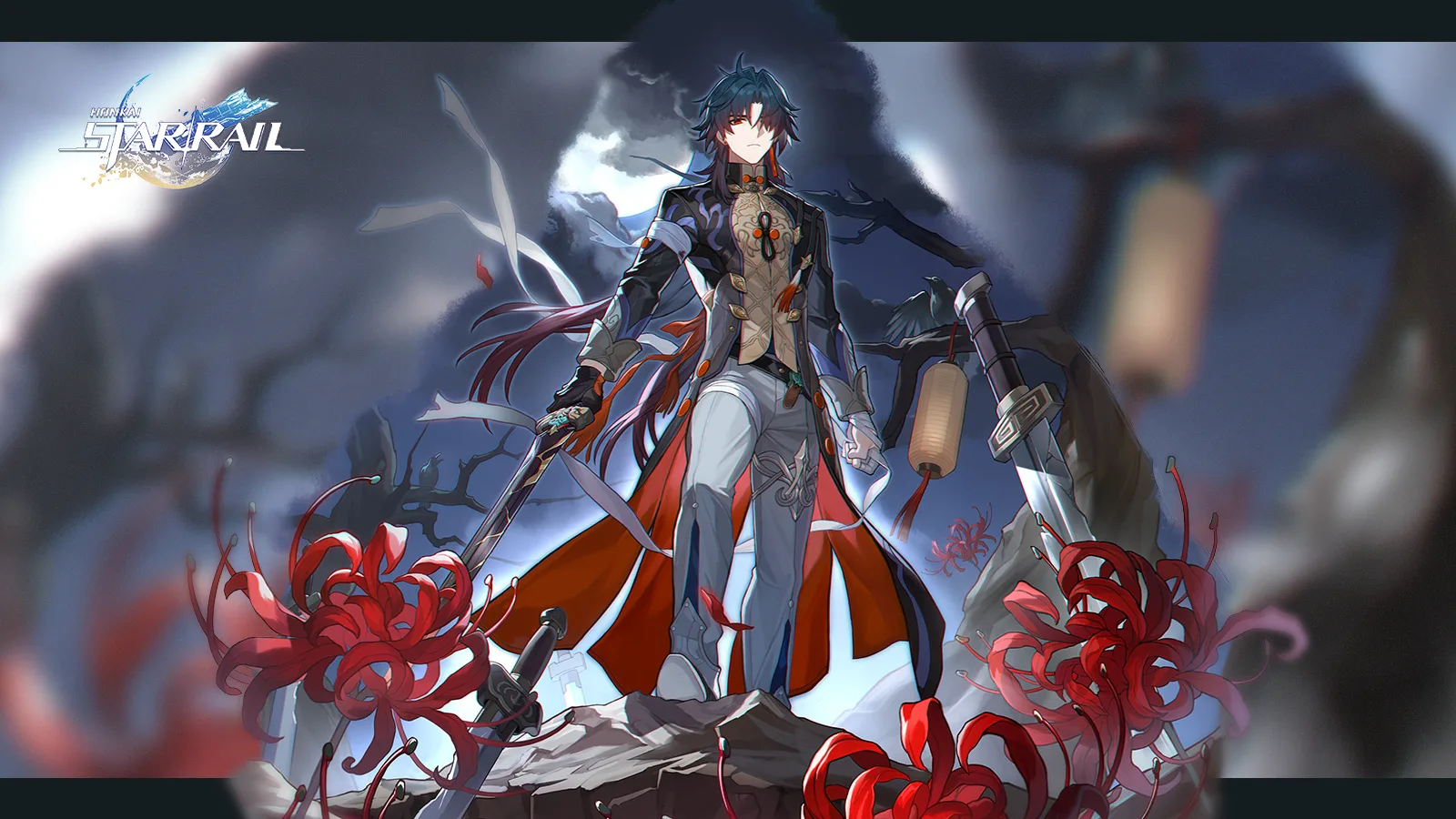Um pecado chamado petróleo
Em setembro de 2024, a Arábia Saudita abandonou sua meta de levar o preço do petróleo ao patamar simbólico de 100 dólares o barril. Pretendia, com isso, tomar o espaço da Rússia e do Irã no mercado petrolífero. Naquele mesmo mês, enquanto transcorriam os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, o mundo assistiu à tempestade Boris atingir países da Europa Central e o furacão Helene fazer estragos nos Estados Unidos. Eventos climáticos extremos competiam, nas manchetes, com eventos políticos extremos. Num ano em que dezenas de países realizaram eleições, a guerra e o clima conseguiram ser o centro das atenções na política mundial. Mas é claro que esses dois problemas não têm nada em comum um com o outro. Nada – exceto o petróleo. The post Um pecado chamado petróleo first appeared on revista piauí.

Em setembro de 2024, a Arábia Saudita abandonou sua meta de levar o preço do petróleo ao patamar simbólico de 100 dólares o barril. Pretendia, com isso, tomar o espaço da Rússia e do Irã no mercado petrolífero. Naquele mesmo mês, enquanto transcorriam os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, o mundo assistiu à tempestade Boris atingir países da Europa Central e o furacão Helene fazer estragos nos Estados Unidos. Eventos climáticos extremos competiam, nas manchetes, com eventos políticos extremos. Num ano em que dezenas de países realizaram eleições, a guerra e o clima conseguiram ser o centro das atenções na política mundial. Mas é claro que esses dois problemas não têm nada em comum um com o outro.
Nada – exceto o petróleo.
Corria o ano de 1973, e o jovem Joe Biden acabara de ser eleito senador por Delaware. Foi quando vários países árabes, derrotados em uma guerra contra Israel, decidiram impor um embargo ao mercado de petróleo. Nacionalizaram a commodity, que até então era vendida por empresas transnacionais, e triplicaram seu preço. Esse processo, que poderia ser lido como um tipo de “descolonização”, transformou a indústria do petróleo. O que antes era um negócio privado com lucros e riscos gigantescos virou uma rede de empresas estatais e fundos soberanos. Alguns países, surpreendidos pelo embargo, sofreram com o desabastecimento. Foi uma época em que motoristas americanos passaram dias nas filas dos postos de gasolina, competindo por um pouco de combustível. Coincidência ou não, tanto o vice-presidente (Spiro Agnew) quanto o presidente americano (Richard Nixon) renunciaram aos seus cargos pouco tempo depois. Perceberam que seu futuro estava atrelado ao preço do petróleo.
O tempo foi passando e chegamos a 1991, ano em que Vladimir Putin começou a ascender politicamente na prefeitura de São Petersburgo. Situação inversa: o preço do petróleo agora beirava o nível mais baixo da história, consequência da desavença entre soviéticos e sauditas na guerra do Afeganistão. Imersa em uma crise monetária, Moscou parou de pagar salários, e os motoristas, sem um tostão no bolso, não podiam mais comprar gasolina. Coincidência ou não, o presidente (Mikhail Gorbachev) renunciou no fim do ano e a União Soviética colapsou de vez. Quinze Estados independentes, incluindo Rússia e Ucrânia, nasceram. Os políticos russos perceberam que seu destino dependia do preço do petróleo.
O preço do petróleo é um animal político. Imprevisível e arbitrário, não se explica pelo custo de produção. Também não tem a ver com flutuações de demanda: o barril pode custar 30 ou 100 dólares e ainda assim será comprado, porque atende a necessidades básicas do consumidor. As margens de lucro na indústria do petróleo são parecidas com as margens da indústria de carros ou computadores na mesma medida que uma baleia parece um coelho.
Todo preço é relativo: quando você enche o tanque do seu carro, você está trocando aquela quantidade de litros por tantas horas do seu trabalho, ou por outros produtos que você deixará de consumir. O preço do petróleo indica a proporção entre os hidrocarbonetos e o restante da economia – a mesma relação entre recursos e mão de obra que é fundamental para o capitalismo. Quanto mais caros forem o petróleo, o ouro e outros recursos naturais, menos dinheiro vai sobrar no lar de quem produz alimentos, casas ou computadores. Qualquer pessoa que paga os próprios boletos prefere que o preço da energia seja baixo e estável. E uma enorme estrutura de subsídios para a agricultura e os combustíveis busca atender a esse desejo. Ao aplicar impostos sobre o trabalho produtivo, os governos pagam trilhões de dólares por ano para empresas que produzem e queimam combustíveis fósseis.
Os preços baixos do petróleo só foram possíveis na era da carbonização, que já ficou para trás. Eram tempos em que o capitalismo parecia irrefreável e a Terra, ilimitada. Mas aprendemos que os recursos naturais são finitos e, pior, que estão muito perto de se esgotar. Ondas de calor, inundações, furacões, secas, incêndios e o derretimento das calotas polares ameaçam nossa sobrevivência. Em busca de alternativas, muitos países vêm substituindo o carbono por fontes de energia menos nocivas, porém caras. A disparada no preço dos combustíveis fósseis tem uma vantagem: incentiva a proliferação das fontes de baixo carbono – hidrelétrica, eólica, solar, nuclear –, que se tornam mais competitivas. A era da descarbonização precisa que o petróleo tenha preços altos e crescentes, punindo os consumidores intensivos da mesma maneira que os preços exorbitantes do álcool, do cigarro e dos artigos de luxo punem seus compradores.
Mas há um problema: aumentar o preço da gasolina é uma política que pode complicar as eleições em muitos países. E mais: é algo que beneficiaria os Estados autoritários que vivem do petróleo. Surfando em lucros excepcionais, esses países provocam guerras, espalham desinformação e exportam poluição. Eis o dilema: o preço baixo do petróleo dificulta a descarbonização, enquanto o preço alto enriquece os países petrolíferos. Nossa incapacidade de encontrar um meio-termo ou de mudar o jogo por completo tem nos legado uma crise.
Há cerca de cem anos, o sociólogo húngaro Karl Mannheim comparou a ideologia à utopia. Embora não fosse marxista, ele acreditava que “as ideias são produtos do seu tempo e do status social dos seus proponentes”. Mannheim via a ideologia como uma rede de conceitos que justifica a ordem social estabelecida, e a utopia como a imagem que subverte essa ordem, apresentando possíveis alternativas à realidade. Segundo ele, as utopias “rompem os vínculos da ordem existente, e o que era uma ideologia servia apenas para esconder a realidade”.
A estabilidade dos preços do petróleo é a nossa ideologia. A alta dos preços é nossa utopia. E como tantas vezes acontece com as utopias, essa estrada é pavimentada com catástrofes.
“Crise” significa um ponto de virada, uma condição restrita no tempo e no espaço. A crise contemporânea, no entanto, parece permanente e onipresente. Envolve guerras, pandemias, turbulências econômicas, cataclismos políticos e mudanças climáticas. Na falta de alternativas visíveis, a crise ganha uma proporção tão ampla que fica difícil até defini-la.
Mesmo assim, há algumas tentativas dignas de nota. A economista alemã Isabella M. Weber criou o conceito de “capitalismo do desastre”, segundo o qual as crises por vezes são tão lucrativas para a grande indústria que ela mesmo escolhe criá-las. Adam Tooze, historiador da Universidade de Columbia, fala em “policrise”: uma instabilidade que não tem uma única causa, mas várias. Um termo parecido com esse é o “permacrise”, uma condição permanente na qual não se pode imaginar nem a salvação nem a morte. Nessas construções conceituais, uma crise é uma crise, o presente é o presente, e essas duas coisas sempre vão existir.
A ideologia funciona em círculos que só a utopia pode quebrar. A ideia de que o futuro será diferente do presente não é uma heresia. É um sentimento saudável, realista, baseado na experiência. E que nos dá esperança. Uma influente escola de pensamento, oriunda sobretudo da Europa, identificou a força motriz da crise: a mudança climática. Bruno Latour, renomado intelectual francês, escreveu que qualquer eleição se transformou em escolha entre opções de políticas climáticas, e qualquer guerra é hoje uma batalha pela sobrevivência dentro da crise climática. Anthony Giddens, o mais importante sociólogo britânico, afirmou que as mudanças necessárias são tão profundas que as pessoas tendem a adiá-las até sentirem que já é tarde demais para fazer alguma coisa. Ulrich Beck, cânone da ciência social alemã, disse que a mudança climática nos salvará de nós mesmos. Ao longo de séculos, o otimismo de Kant competiu com o ceticismo de Voltaire, e essa disputa continua em voga até hoje. No entanto, para ambos os lados deveria ser mais fácil imaginar o fim da crise do que o fim do mundo.
Para responder à crise climática precisamos de uma ação política que tenha vigor, solidariedade e um senso de propósito. O que está em jogo é tão monumental que nos faz pensar em guerras e revoluções. Como numa guerra, a ação climática precisa enfrentar o apaziguamento e buscar a vitória. Como numa revolução, a política climática oscila entre a utopia e o realismo, entre projetos radicais e reacionários. E como em todas as guerras e as revoluções, a ação climática tem um efeito divisionista: categoriza os parceiros internacionais como amigos ou inimigos, uma distinção que acomete também as populações de cada país.
O Green Deal, legislação aprovada pelo Parlamento Europeu em 2021, impôs ao continente a meta de reduzir pela metade suas emissões até 2030, e a zero até 2050. Na mesma toada, Estados Unidos, China, Japão e dezenas de outros países adotaram planos de descarbonização. Os políticos responsáveis pela transição energética imaginam se tratar de uma causa comum, que pode unir o mundo. Não é bem assim. Todos os planos de descarbonização significam, na prática, menos recursos para países e empresas que extraem combustíveis fósseis ou que ganham dinheiro transportando o petróleo do poço ao posto.
Esses petro-Estados, assim como os magnatas do ramo, estão entre os tomadores de decisão mais poderosos do mundo. São também alguns dos lobistas mais ricos. Priorizando seus interesses particulares em detrimento do bem comum, produzem campanhas de desinformação e interferem em eleições. Alguns desses países – caso de Rússia, Irã e Venezuela – iniciaram conflitos que podem se transformar em guerras mundiais. Não há nada de atraente nesses Estados, que parecem saídos de romances distópicos ou filmes de terror. Eles oprimem seu próprio povo, promovem a desigualdade e incitam violência. Ainda assim, a força do tabu democrático faz dele intocáveis: nada deve aumentar o preço do petróleo.
Combinando os maiores volumes e as mais longas distâncias, o comércio de petróleo foi a espinha dorsal da globalização. Continua sendo o maior mercado do mundo. Aparenta funcionar livremente – afinal, os preços flutuam, o capital flui, os acionistas especulam como se não houvesse amanhã. O paradoxo, porém, é que não se trata verdadeiramente de um mercado. A oferta de petróleo é dominada por Estados da Eurásia do Norte, Oriente Médio e América do Sul. O sucesso das empresas americanas de exploração do xisto petrolífero, todas privadas, não mudou o fato de que quase todo o petróleo do mundo está na mão de países.
Os Estados árabes declararam o monopólio estatal da energia em 1973, a Venezuela nacionalizou seu petróleo em 1976 e a Rússia re-nacionalizou a maior parte do seu em 2004. A época dos barões do petróleo acabou – estamos no tempo dos sultões do petróleo. Líderes nacionais, alguns deles ditadores, coordenam pelo telefone as cotas de produção e o nível dos preços. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), criada para ser um símbolo da descolonização, se transformou em 2016 na Opep+, um instrumento para novos empreendimentos imperialistas que inclui a Rússia. Esse cartel, indiferente à crise climática, é quem manda hoje nos preços do petróleo de todo o mundo. Com cotas pré-planejadas e fundos soberanos, a indústria petrolífera está muito mais próxima do comunismo ao estilo soviético do que da “mão invisível” do mercado, professada pelo liberalismo clássico.
Do ponto de vista do clima, a Guerra Fria foi quente: Primeiro Mundo (capitalismo) e Segundo Mundo (socialismo) aqueceram o planeta. A maior queda nas emissões globais de que se tem notícia ocorreu em 1991, quando o colapso da União Soviética causou sua desindustrialização. Mas as vendas de petróleo e gás da Rússia logo compensaram o buraco deixado pela indústria. Tudo o que o país precisava podia ser trocado por hidrocarbonetos. Foi um bom negócio e um modelo para outros Estados. Por um lado, eles obtinham superlucros exportando seu petróleo. Por outro, não eram responsáveis pelas emissões dos gases poluentes que esse petróleo gerava no exterior, onde era queimado como combustível. Continuam não sendo.
Enquanto a Rússia confronta os novos tempos, interessada em preservar o decadente mercado de petróleo, a China investe com força total na energia renovável. O país, graças a suas minas de carvão e importações de petróleo, é hoje o maior emissor de gases do efeito estufa. Ao mesmo tempo, é líder global na fabricação de tudo o que é necessário para a transição verde. A crescente codependência entre China e Rússia é uma grande ameaça para o mundo em termos de descarbonização, por dois motivos. O suprimento ilimitado de petróleo, gás e carvão da Rússia, a preços baixos, ajuda a China a adiar a transição energética. As economias verdes avançadas respondem com políticas protecionistas, que encarecem os painéis solares e carros elétricos. O resultado é o mesmo – mais petróleo queimado e mais emissões no ar.
Como expliquei em um livro recente, cada recurso natural tem sua própria qualidade política. Só o petróleo traz os superlucros que permitem a um ditador prosperar, mesmo cercado de uma elite corrupta, com súditos empobrecidos e guerras sem sentido. Da Líbia à Rússia, do Irã à Venezuela, da Arábia Saudita ao Turcomenistão, o ditador típico chefia um petro-Estado. É algo curioso: no século passado, o petróleo parecia ter afinidade com o neoliberalismo. O acadêmico Michael L. Ross demonstrou, em sua pesquisa, que os Estados petrolíferos têm estruturas de governo maiores e mais desigualdade que seus países vizinhos, considerando a média. Estudando as guerras do século XXI, Jeff Colgan concluiu que esses Estados iniciam guerras com mais frequência e as prolongam por mais tempo do que os países importadores de petróleo. Mas essa “petro-agressão”, por si só, não explica os objetivos dos petro-Estados. Por que eles lutariam por mais reservas se não são capazes de vender aquilo que já produzem?
Pressionados pelas políticas de descarbonização, os países produtores de petróleo consideram que a diminuição das suas exportações é uma ameaça à sua segurança. A literatura existente sobre as “petro-agressões” não diferencia as guerras pelas rotas de trânsito (Rússia x Ucrânia, Azerbaijão x Armênia, os ataques aos gasodutos Nord Stream, os Houthis contra os navios ocidentais no Mar Vermelho) e os conflitos sobre ativos de petróleo (Iraque x Kuwait, Venezuela x Guiana). Hoje, no mundo, mais petróleo é transportado por terra do que por mar. Isso explica a recorrência de ataques a rotas de transporte terrestres, como o que vemos na Ucrânia. O fato é que a maioria dos conflitos armados deste século não teria acontecido se um dos lados – ou ambos – não tivesse petrodólares armazenados em fundos soberanos.
A maior parte da comunidade internacional já prometeu zerar suas emissões de carbono – faltam os Estados petrolíferos. Eles veem a descarbonização como um jogo de soma zero ou uma conspiração para prejudicá-los. Combinando trapaça e violência, fazem o que podem para obstruir a transição energética. Há quem pense que os altos preços do petróleo podem servir a esses países como uma espécie de compensação financeira. Mas esse “imposto verde” indireto, embora pudesse contribuir para a paz momentânea, significaria uma derrota histórica do ambientalismo. Com um verdadeiro imposto verde, seria possível fazer investimentos na escala necessária para a transição energética. Temos então duas opções antagônicas: a primeira salva a indústria do petróleo, enquanto a segunda salva o mundo.
Durante a Guerra Fria, surgiu uma teoria segundo a qual capitalismo e socialismo acabariam convergindo em algum momento. É uma visão aproximada do nosso futuro catastrófico. Lado a lado no comércio global, os governos e os fundos soberanos aprenderam a manipular mercados por meio de tarifas, subsídios e poupanças. Entretanto, ainda traduzimos nossos riscos e benefícios em termos de preços. Abolindo os subsídios que diminuem o preço da energia para o consumidor, um sistema alternativo vai introduzir uma série de impostos volumosos. O petróleo será caro para o comprador e barato para o fornecedor. Medida em trilhões, a diferença vai passar dos fornecedores de petróleo para o tesouro dos governos nacionais. Os chamados “impostos do pecado” encarecem o álcool e o cigarro e, com isso, reduzem seu consumo. Os impostos verdes aumentam o preço dos combustíveis fósseis e reduzem as emissões. Não as eliminam por completo, já que tributar não é proibir. Ao impactar os estilos de vida, os novos impostos deixarão a escolha nas mãos do consumidor.
Novamente, estamos diante de um dilema que não é econômico nem ecológico, e sim moral e político. Para introduzir um imposto desse tipo, é preciso haver primeiro uma aceitação geral de que o consumo de petróleo é pecaminoso. O uso excessivo dos derivados de petróleo deveria causar culpa, da mesma forma que o uso excessivo de produtos que viciam. Tal utilização exige uma compensação ou retribuição – e para isso precisamos que o imposto como punição seja socialmente aceitável. Não parece que estejamos nesse ponto ainda. Como disse o ex-primeiro-ministro da Itália Mario Draghi em um relatório recente para a Comissão Europeia, “o engajamento dos cidadãos é essencial para uma transição [energética] bem-sucedida”. Até agora, nossas tentativas de gerar esse engajamento por meio da educação, da grande mídia e da cultura popular não tiveram sucesso. Estamos passando, em vez disso, por um processo bastante prático que eu chamaria de aprendizado catastrófico.
O Homo sapiens define a si mesmo como um ser racional, mas isso não o impede de negar verdades quando lhe são desagradáveis. “Aprendemos geologia na manhã seguinte ao terremoto”, disse Ralph Waldo Emerson. A humanidade se provou incapaz de realizar ações preventivas sobre o clima, e é provável que só o faça depois de uma ou mais catástrofes.
Há um padrão histórico nisso. O iluminismo ganhou força depois do terremoto de Lisboa de 1755, que mostrou que até mesmo Deus tinha limites. Comprovando uma tese semelhante sobre o comunismo, a catástrofe de Chernobyl em 1986 deu um impulso à Perestroika soviética. A chave para se sobreviver ao futuro catastrófico é a capacidade de aprender com o passado trágico. O novo mundo nascerá do espírito da tragédia. Os custos são exorbitantes, mas resta a esperança de que a humanidade aprenda com eles. Parafraseando um ditado de Winston Churchill, pode-se dizer: nunca devemos deixar uma catástrofe ser desperdiçada.
Será que as catástrofes climáticas servirão como um tratamento de choque que abrirá caminho para um novo iluminismo? Construída pelos sobreviventes, a economia renovável será mais eficaz, menos centralizada e mais fácil de administrar. As distâncias para o fornecimento de energia serão menores, tornando menores, por tabela, as ameaças à segurança, os custos de seguro e as taxas de juros. Revertendo a financeirização e a securitização da era do petróleo, esse novo mundo será verde, justo e seguro. Os poluidores pagarão duas vezes: primeiro pelo combustível que queimam, depois pelas emissões que causam. O preço de qualquer mercadoria ou serviço será medido pelo volume de emissões que trazem ao mundo. Ao redistribuir riquezas, o Leviatã Climático imporá novos freios e contrapesos à nossa relação com o planeta. Os poderes globais, organizados de forma hierárquica, serão sorrateiros e bem armados. Acabarão com as guerras, curarão traumas e terão dois objetivos: reduzir os danos à natureza e impulsionar a criatividade humana. Suas políticas desfrutariam do apoio democrático dos sobreviventes, que se lembrariam das catástrofes vividas. Guerras e armas serão proibidas neste mundo utópico. A propriedade será privada, mas a desigualdade, limitada. Com a energia cara, o entretenimento será cada vez mais digital, os alimentos mais veganos e os impostos sobre o pecado serão onipresentes.
Será uma utopia ou uma distopia? As duas coisas – talvez uma convergência. Apesar de todos os fracassos que experimentamos, estamos mais perto desse futuro do que estávamos em 1917 ou 1989. Afinal, quem herda o mundo são os sonhadores.
O artigo foi publicado originalmente em The Ideas Letter, um projeto da Open Society Foundations.
The post Um pecado chamado petróleo first appeared on revista piauí.